Ética e política entre Maquiavelismo e Kantismo*

Michelangelo Bovero**
Professor do Departamento de Estudos Políticos da Universidade de Turim
UM TEMA E MUITOS PROBLEMAS
Clássico tema recorrente, aquele da relação entre ética e política. Reapresentado em cada época sob formas e modos peculiares, debatido em línguas diferentes, suscitado por diversas circunstâncias no cenário da insuprimível procura de critérios para o juízo político, põe sempre novamente em discussão a própria possibilidade de avaliações morais na política. Este é o problema de fundo, que ressurge também nas tentativas de definição formal, e mais ou menos escolástica, dos dois termos, considerados seja como disciplinas que buscam definir os respectivos confins, seja como formas ou dimensões da experiência humana sobre as quais aquelas disciplinas refletem.
Como é manifesto, na história da cultura ocidental encontram-se diferentes teorias acerca da relação entre ética e política, algumas das quais afirmam a compatibilidade, ou também a convergência, ou diretamente a substancial identidade dos dois termos; outras afirmam a divergência, a incompatibilidade ou diretamente o antagonismo. Ao propor um mapa dessas teorias, na conferência inaugural de um colóquio em 1982, Bobbio as distribuía em dois grandes tipos, as teorias monistas e as dualistas, subdividindo-as ainda respectivamente nas espécies do monismo rígido e flexível, do dualismo aparente e real1. Não pretendo discutir aqui essa tipologia, retomada e desenvolvida recentemente pelo autor2; gostaria ao contrário, como ponto de partida, de levantar uma dúvida que me foi sugerida pelo contexto da discussão no qual estava inserida a primeira versão da tipologia bobbiana. A dúvida é esta: as teorias concernentes à relação entre ética e política podem ser todas alinhadas sobre o mesmo plano, como diferentes soluções de um mesmo problema, ou ao contrário as figuras por vezes projetadas daquela relação dificilmente são alinháveis, porque o problema, conforme a perspectiva em que é considerado, apresenta aspectos absolutamente distintos e irredutíveis entre si? No colóquio de 1982, Remo Bodei chamava novamente a atenção para os movimentos do pensamento contemporâneo reconduzíveis à chamada “reabilitação da filosofia prática”, que voltam a propor a união clássica entre ética e política3; Salvatore Veca solicitava “levar a sério a exigência de uma valorização ética da política”, na perspectiva de uma teoria contratualista da justiça4. Era difícil furtar-se à impressão de que Bobbio, no discurso de abertura do colóquio, se tivesse movido em outra direção, ou que tivesse diretamente “falado de outra coisa”. Bodei e Veca, ainda que desenvolvendo linhas argumentativas independentes e não totalmente convergentes, colocavam-se ambos, diferentemente de outros expositores, naquele primeiro momento da devastadora crise do marxismo, na direção de uma superação da desvalorização da ética própria do realismo marxista. Por detrás da tipologia de Bobbio entrevia-se claramente a consideração do problema substancial a partir do qual nasceu o realismo político clássico, problema que se poderia chamar o enigma ético da história: a persistente imoralidade do poder político, a inevitável violência de que se reveste. Mas como é possível que problemas prima facie tão diversos, como aquele clássico da violência do poder e da razão de estado, e aquele não menos clássico da justiça distributiva, renovado pela filosofia política contemporânea, possam ambos emergir ao mesmo tempo a partir da reflexão sobre o mesmo tema geral da relação entre ética e política? Este fato pode valer como indício de que entre eles subsiste alguma conexão? Ou é então indício de confusão em torno das próprias noções de ética e de política?
Um fio condutor que permite estabelecer conexões plausíveis e evitar confusões pode talvez ser encontrado, se se começa a colocar do princípio o problema muito geral e formal, da comparabilidade entre ética e política. Hegel advertia que se deve procurar a diferença na identidade, não menos que a identidade na diferença5; se se deseja chegar a uma clara noção da diferença entre dois termos (entes ou classes de entes), é antes de tudo necessário referir ambos a uma mesma medida, ou também, o que é o mesmo, verificar sua pertinência a um campo comum. A representação dos caracteres essenciais, ou seja, distintivos de cada termo pode resultar somente de uma espécie de definição recíproca, da especificação da linha limítrofe que discrimina um termo do outro no interior do campo comum.
Ética e política são confrontáveis? Podem ser ambos referidos a um mesmo termo de comparação, ou pertencem a universos incomensuráveis porque muito distantes? Pode-se responder de um ou de outro modo e articular a resposta de muitos modos diferentes. Parece-me plausível assumir inicialmente que ética e política são comparáveis na medida em que ambas são pertinentes à regulamentação da conduta humana e das relações intersubjetivas. Pode-se dizer em geral que uma ética (toda e qualquer ética) é um conjunto mais ou menos sistemático e coerente de princípios, diretrizes e normas com a intenção de orientar e disciplinar a conduta dos homens. Parece-me difícil atribuir o predicado “ético” a algo que seja completamente estranho ao campo das normas de conduta. Por outro lado, a noção de política é sempre de algum modo conexa àquela de poder, e por meio desta conexão também a política se deixa representar como uma forma de regulamentação da conduta mediante normas. Disso decorre a clássica definição de poder propriamente político ou poder de governo como aquele que se exercita mediante comandos, de normas imperativas e coativas, com o fim de ordenar a vida social. Nesta perspectiva, na qual política e ética são ambas referidas ao campo das normas de conduta, temos necessidade de critérios com base nos quais seja possível discernir a diferença (ou eventualmente verificar a identidade) entre regulamentação ética e regulamentação política do comportamento humano. Em outras palavras, devemos perguntar se norma ética e norma política podem ser consideradas como tipos diversos de normas e prescrições, se é possível traçar uma linha nítida de limite entre elas, e se subsistem controvérsias sobre esse limite. Para responder sugiro experimentar quatro critérios concernentes: 1) à relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da prescrição, ou seja, entre o produtor da norma e seu destinatário; 2) à estrutura formal da norma; 3) ao tipo de obrigação que se consegue dela; 4) ao fim ou escopo último ao qual a conduta é dirigida pela prescrição respectivamente ética e política. Tais critérios – e aqui me atenho particularmente ao primeiro e ao quarto – levam a buscar respostas paralelas e confrontáveis, respectivamente no campo da ética e naquele da política, com cada uma das seguintes perguntas: 1) quem prescreve a quem?-, 2) como?; 3) com quais pretensões?; 4) por quê?
Fica evidente que desse modo a análise da relação entre ética e política fica assentada sobre a pauta de questões clássicas concernentes à relação entre direito e moral6. Isto não equivale a pressupor uma identidade entre os conceitos de política e de direito, mas antes a acolher o convite para considerar a política e o direito como “duas faces da mesma moeda”7. Mas poderia imediatamente ser objetado que no interior desta perspectiva o problema da relação entre ética e política não é apanhado na sua especificidade com respeito àquele da relação entre ética e direito: enquanto este último trata, por larga tradição, do melhor modo de distinguir dois entes que se consideram de algum modo separados, o que parece estar em discussão na outra vertente é a própria possibilidade de manter separadas ética e política. Todavia, parece-me que a perspectiva aqui adotada consiste precisamente em colocar perguntas cruciais em torno da natureza específica da política, e que por essa razão tal perspectiva pode ser finalmente considerada heuristicamente fecunda. Remeto-me ao juízo do paciente leitor.
AUTONOMIA ÉTICA E HETERONOMIA POLÍTICA
Do ponto de vista da relação entre sujeito ativo e sujeito passivo, ou melhor, entre aquele que prescreve e aquele ao qual é destinada a prescrição, se distinguem duas situações ou figuras da relação normativa em geral: a autonomia, quando o sujeito ativo e o passivo identificam-se, e a heteronomia, quando se trata de dois sujeitos distintos. Em Kant, a oposição entre essas duas figuras preside propriamente a definição da moralidade – ainda que a definição kantiana não seja da ética em relação à política. Mas Kant entende por autonomia alguma coisa para além da simples identificação de sujeito ativo e passivo. Entende a autonomia da razão pura “em si mesma prática”, ou seja, a capacidade de a razão atribuir-se por si a própria lei que determina a vontade de agir. Neste sentido, para Kant seguir os próprios impulsos, desejos e interesses constitui também uma condição da heteronomia. Não quero acompanhar Kant em todo seu rigorismo. Todavia, a idéia de Kant de que a autonomia é um traço essencial e distintivo da moralidade, e que o sujeito moral como tal está submetido “somente à própria legislação universal, e que é obrigado a agir somente conforme a própria vontade que é a legisladora universal”8convidam pelo menos a examinar se a dupla de opostos autonomia/heteronomia, entendida no modo mais simples como identidade/distinção do sujeito ativo e passivo, é adequada a uma definição recíproca da ética e da política.
À primeira vista, esta definição-distinção parece convincente. A obrigação moral é percebida como essencialmente autônoma: o que devo fazer é aquilo que me é prescrito pela minha vontade racional, não por uma vontade estranha; e quem aponta um certo comportamento a mim como moralmente obrigatório faz apelo à minha vontade, e pretende encaminhar-me ao que minha própria razão por si mesma me aconselharia se fosse consultada. Por outro lado, a obrigação política é essencialmente heterônoma: o que devo fazer me é prescrito por outros, por um poder autorizado; e se não respeito o comando da autoridade como máxima determinante do meu comportamento, se não absorvo a norma, nem por isso ela deixa de existir. A obrigação política continua a subsistir ainda que eu discorde, ou seja, que considere injusto o comando: mas não teria sentido dizer que uma obrigação ética continua a subsistir também para “quem dissente moralmente”, a saber, para quem não reconheça a validade moral de um preceito que lhe seja apresentado como válido.
Mas neste ponto é necessário ver se o limite foi bem traçado: é mesmo verdadeiro que saímos do campo da ética quando o sujeito adere a princípios de ação provenientes do exterior e que não podem ser remetidos a seu próprio discernimento? E reciprocamente, é mesmo verdadeiro que se sai do campo da política quando na relação normativa não é mais de -qualquer modo discernível uma duplicidade de sujeitos? A memória oferece imediatamente alguns exemplos consistentes de falta de confinamento: com efeito, aparecem historicamente concepções da ética que não se enquadram no esquema da autonomia, e concepções da política que não se adequam ao esquema da heteronomia. Na primeira vertente, vem de imediato à mente o caso das éticas religiosas, ou melhor daquelas concepções religiosas da ética nas quais se faz a validade das prescrições derivar da vontade arbitrária do ser supremo. A oposição de princípio entre concepções heterônomas similares da ética e as concepções por assim dizer “autônomas” é claramente ilustrada por Leibniz: “Não existe dúvida de que tudo o que Deus quer é bom e justo; mas isso é bom e justo por que Deus o quer, ou Deus o quer porque é bom e justo? Ou seja, a justiça e a bondade – pergunta-se – dependem do arbítrio divino, ou têm seu fundamento nas verdades necessárias e eternas da natureza das coisas, do mesmo modo que os números e as proporções?”9 Contrariando como bom racionalista a primeira tese, Leibniz a atribuía explicitamente a Pufendorf, e encontrava os fundamentos metafísicos dela em Descartes. Mas pode-se retroceder muito mais, pelo menos até Anselmo e Ockham, como se pode avançar até Wittgenstein e seus seguidores10. Logo, parecem não se enquadrar no esquema da autonomia também as concepções dos que entendem a ética como uma moral social, como um conjunto de normas nascidas da convivência, produzidas pela história coletiva e fundadas sobre o costume, e que, portanto, não podem ser remetidas ao discernimento racional do indivíduo. O conceito hegeliano de ética como distinto daquele de moralidade poderia ilustrar esta posição; mas neste caso a própria definição hegeliana de eticidade como unidade de vontade universal e vontade individual, que sugere a idéia de uma assimilação e interiorização das normas, parece excluir o esquema de heteronomia. A concepção hegeliana é certamente uma concepção da ética muito diversa da kantiana, mas não pode ser considerada propriamente uma concepção heterônoma.
Na outra vertente, é fácil pensar naquela concepção que é a fonte principal da noção kantiana da autonomia ética: a concepção roussoniana da autonomia política. Mas a idéia de autonomia política, entendida como a faculdade do cidadão democrático de atribuir leis a si próprio, contém no meu entender uma aporia. Sustentei recentemente11que rigorosamente a autonomia só pode ser ética, e que, pelo contrário, toda condição de pertencer a uma comunidade política deve ser considerada pelo indivíduo, em formas e graus diversos segundo os regimes, como uma condição de heteronomia. Do ponto de vista das relações normativas, o indivíduo pode de fato ser pensado em duas situações idealmente opostas: na primeira situação, na qual o indivíduo está só – ou como se costuma dizer, só com a própria consciência – para decidir as regras do próprio agir, tem-se propriamente autonomia, e sujeito ativo e passivo identificam-se sem resíduos; na segunda, na qual as normas que regulam a conduta individual são decididas pelo coletivo ou por quem o representa, enfim, pelo poder político, tem-se de qualquer maneira heteronomia, sujeito ativo e passivo não se identificam. Isto é evidente para os regimes não-democráticos; mas também no caso da democracia não se pode dizer que se trate do mesmo sujeito. Ainda que o destinatário da norma, que Rousseau chama de “súdito, na medida em que submetido às leis do Estado”, coincida materialmente com a pessoa do produtor da norma, que Rousseau chama de “cidadão, – enquanto partícipe da autoridade soberana”12, na realidade a produção da norma é um ato coletivo, cujo sujeito é o “corpo soberano”, ou seja, a assembléia legislativa, não os homens que dela fazem parte individualmente. O indivíduo como tal não é, nem pode ser politicamente autônomo nem mesmo na democracia: não atribui leis a si próprio, ainda que contribuísse com o processo coletivo de formação delas, e nisso consiste sua liberdade política (mas possivelmente seria mais correto falar de poder). É uma prova disso que o indivíduo como tal não pode, apelando ao tribunal da própria razão, mudar por um ato de vontade autônoma as normas decididas pelo coletivo, ainda que tenham nascido do processo democrático do qual ele próprio participou. Paradoxalmente, o único ato de autonomia política atribuível ao indivíduo também na democracia é aquele da oposição ao coletivo: da desobediência à secessão. Mas são atos excepcionais, que fazem sentido somente em vista da reconstituição de uma nova (e diferente) ligação política, ou seja, de uma nova relação heterônoma do indivíduo em relação ao coletivo, ainda que seja aquela em que cada um pode exercitar o jus activae civitatis (direito de cidadania ativa). Por essa razão, uma concepção da política que tenta escapar do esquema da heteronomia parece-me contraditória.
Por esse motivo, parece bem traçada a linha de demarcação entre ética e política que passa pela oposição de autonomia e heteronomia. O caso das éticas religiosas heterônomas, que parecem borrar essa demarcação, poderia ser resolvido considerando-as sem muito exagero pertencentes ao campo da política, ou melhor, ao campo das relações de poder, no qual está incluída a política e do qual está excluída a ética: uma moral religiosa que está defronte não a um valor último mas a uma autoridade última, não a um princípio mas a um príncipe, é proposta como o código de um governo divino do mundo, a saber, como um conjunto de normas assimiláveis à política porque colocadas pelo verdadeiro soberano absoluto. Antes, parece bem a propósito o argumento leibniziano segundo o qual dizer “stat pro ratione voluntas”, minha vontade está no lugar da razão, é propriamente a máxima de um tirano13.
ÉTICA E POLÍTICA SÃO COMPATÍVEIS?
Neste ponto devemos perguntar-nos se ética e política são compatíveis, ou se, definidas reciprocamente com base na oposição entre autonomia e heteronomia, a condição de dependência política e portanto de heteronomia representa para o indivíduo a anulação de sua autonomia moral, ou pelo contrário, se a autonomia moral do indivíduo exclui a possiblidade de sua heteronomia-dependência política. Para falar em termos roussonianos: se homem e cidadão são mutuamente excludentes ou compatíveis. A resposta de Rousseau é clara e inquietante: a passagem da condição de homem, sujeito íntegro da autonomia moral, àquela de cidadão, parte atada à unidade da cidade e aos seus destinos, é concebida como uma transformação radical da natureza humana, e na capacidade de operar essa transformação se reconhece a qualidade do “grande legislador”14.
Todavia, não parece difícil encontrar argumentos para defender a tese segundo a qual a autonomia ética e a heteronomia política não se excluem necessariamente. Pode-se antes afirmar que a autonomia ética do indivíduo membro de um grupo político se conserva sempre que o indivíduo tenha boas razões, não contrastantes com seus princípios morais, para reconhecer como legítimo o poder político. Em outras palavras, a qualidade do cidadão submetido a um ordenamento político não invalida a autonomia ética do indivíduo, quando o poder político é por ele justificável a qualquer título, sempre que este título de legitimação seja coerente com seus princípios morais. Mas, dessa maneira não se reconduziu talvez à interioridade, e portanto ao campo da autonomia ética, a própria raiz da relação política? E um poder legítimo, ou seja, que apareça justificado com base em princípios autonomamente assumidos pelos próprios indivíduos, é ainda para esses indivíduos propriamente heterônomo? Chega-se à mesma dúvida invertendo a hipótese: onde um poder político impusesse normas em gritante contraste com as normas morais-autônomas dos indivíduos, seria esse ainda um poder legítimo para esses indivíduos?
Ainda que considerações similares levantem problemas importantes e difíceis, não me parece contudo que elas tenham o valor de anular a distinção até aqui proposta entre ética e política com base na oposição entre autonomia e heteronomia: sugiro porém não reportar à ética – em essência à liberdade subjetiva humana – o fundamento de todo poder que não seja simples poder de fato, ou seja, daquele poder coativo que emite normas com a pretensão de ser (na maioria das vezes) obedecido não simplesmente por força de um terror generalizado. Pode-se discutir se para definir como propriamente político um poder coativo é necessário o requisito de legitimidade, além daquele da exclusividade, ou seja, do monopólio da força15. Mas ainda que a legitimidade seja considerada como o necessário fundamento ético de um poder político, isso não altera a natureza essencialmente heterônoma desse poder, pelas mesmas razões que conduzem a considerar uma aporia o conceito de autonomia política: um poder legítimo, ou seja, justificado para a generalidade (ou quase) dos indivíduos aos quais se destina, deve ser entendido como poder legitimado, dentro de certos limites que derivam do seu próprio princípio de legitimação, para impor normas válidas para todos e para obter coativamente o respeito também por parte dos dissidentes. Uma dissensão de natureza moral acentuada e difundida pode arrebatar o fundamento de legitimidade a um determinado arranjo de poder, pode levar ao abandono de um determinado ordenamento ou à sua derrubada, mas não pode alterar a natureza da relação política como tal: para refazer a relação será de qualquer forma necessário reconstituir o vínculo de dependência de cada um dos homens em relação à decisões coletivas.
A legitimidade do poder político, nos termos agora definidos, aparece portanto como uma primeira condição de compatibilidade, e não de identidade ou de confusão, entre ética e política. Em segundo lugar, ética e política podem ser definidas como compatíveis, se são concebidas para sistematizar esferas e dimensões distintas do comportamento. O que equivale a colocar a condição de que um certo espaço para a autonomia moral do indivíduo seja sempre deixado subsistir como tal, livre das interferências políticas, ou então que a ordenação política constituída, por mais que amplamente legitimada, não chegue a ocupar inteiramente a esfera ética, anulando a liberdade de consciência, e reciprocamente, que o código ético dominante, ainda que amplamente compartilhado, não chegue a permear, toda a esfera política, gerando conformismos coativos e fanatismos. Qual é ou deve ser o confim material entre dois espaços, refiro-me ao critério que determina seu respectivo conteúdo, é impossível estabelecer no geral e no abstrato. O limite muda no tempo e no espaço, é continuamente reformulado em cada cultura, frequentemente contestado, algumas vezes é eliminado. Por esta razão, o problema da relação entre ética e política parece traduzir-se nos termos controversos de uma outra grande dicotomia: privado-público16. Que existe ou deve existir de qualquer modo um certo limite material para garantir espaços de relativa independência recíproca representa a condição mais geral da compatibilidade entre ética e política. Mas isto significa que a normatização ética e política procedem no melhor dos casos paralelamente, ou será possível imaginar que são também convergentes, sem por isso identificar-se ou confundir-se?
PODE A POLÍTICA SER CONFORME À ÉTICA?
Que a norma ética e a norma política sejam convergentes significa, literalmente, que dirigem aspectos relevantes da conduta humana por vias diferentes – do exterior a política, do interior a ética – mas para a mesma meta. Isto parece possível se a produção de normas políticas segue o princípio kantiano do bom governo: fazer leis “que um povo de juízo maduro prescreveria a si próprio”17. A norma política heterônoma leva então onde levaria uma norma autônoma. Mas, norma autônoma em que sentido? Não recaímos com o roussoniano Kant nas iscas da noção da autonomia política? Assimilando fraudulentamente à autonomia ética do indivíduo uma pretensa autonomia coletiva “do povo”, que é uma fictio iuris, um indivíduo alegórico no qual se dissipa e se perde a distinção entre o coletivo e os indivíduos reais, ou seja, entre o sujeito ativo da relação política e os sujeitos passivos, não se chega a uma solução aparente do problema? A menos que a chave dessa solução, que vê ética e política como esferas distintas de atividades compatíveis e convergentes, não esteja na especificação “de juízo maduro”. Para preencher o hiato entre autonomia e política poderíamos então entender que o povo é de juízo maduro se é composto por indivíduos emancipados, segundo o conceito kantiano de iluminismo, ou seja, livres de qualquer tutela, e que por essa razão tal povo, ou o príncipe por ele, deve criar leis tais que cada indivíduo prescreveria a si próprio. Somente essas leis político-morais deveriam ser consideradas como decisões coletivas válidas, ou seja, racionais e justificadas pela razão autônoma prática. Neste caso, as normas coletivas, também sempre heterônomas para cada homem, que como tal não é de modo algum o coletivo, por coerência racional acabariam coincidindo, ou pelo menos convergindo, com as normas individuais autônomas no sentido preciso de que, ainda que permanecessem distintas do ponto de vista da estrutura da relação normativa, umas e outras orientariam a conduta numa mesma direção.
Desafortunadamente, esta solução ideal mostra-se vulnerável a pelo menos duas objeções consistentes. Em primeiro lugar: a quem cabe julgar essa conformidade da política com a moral? Se cabe a cada indivíduo, enquanto naturaliter maiorennis, não se segue daí a dissolução da relação política? A integridade da autonomia moral individual parece de fato implicar uma espécie de direito de veto no caso de dissensão sobre as normas coletivas ou, o que é o mesmo, parece exigir o critério dá unanimidade para sua aprovação. Mas um grupo que tivesse a capacidade de reger-se pela regra da unanimidade não teria propriamente necessidade de leis nem de poder, não seria mais um grupo político senão uma “república moral”. Em segundo lugar, e sobretudo: a conformidade da política com a moral pode ser sensatamente exigida? Quando um sujeito se investe de questões políticas, quando enfrenta matéria de decisões coletivas sobre as quais está autorizado a deliberar e decidir, as regras deste deliberar e decidir, deste agir político podem ser sempre as mesmas que regulam seu comportamento moral? Em outras palavras: o bem para o grupo, que o agir político deveria perseguir, pode ser sempre coincidente ou conforme ao bem para o indivíduo, e dessa forma comandar as mesmas ações ou pelo menos ações convergentes?
Antes de buscar as possíveis respostas, é importante observar que com a última série de interrogações passamos a um outro plano, a saber, colocamos em exame um outro problema nos termos de uma problemática relação entre ética e política. Até aqui, discutindo a compatibilidade e a convergência entre normas éticas e normas políticas, considerávamos a dupla situação do indivíduo que, por um lado, assume em si mesmo regras morais, ou na verdade faz seu (autonomia ética) um código de comportamento, e por outro lado recebe normas do coletivo do qual participa (heteronomia política). Agora, ao contrário, ao perguntar se o agir político pode ser conforme à moral, chegamos a confrontar entre si dois indivíduos ambos virtualmente autônomos, ou seja, em condição de determinar por si mesmos as regras do próprio agir: um, que na comparação representa a ética, é o mesmo de antes, é o sujeito moral, enquanto o outro, que na comparação representa a política, não é mais o sujeito passivo da relação político, mas o sujeito ativo. Em outras palavras, se antes o objeto da análise era a relação entre o tipo de normas dirigidas ao sujeito moral e o tipo de normas dirigidas ao “súdito”, ou seja, ao destinatário das normas políticas; agora o objeto da análise vem a ser a relação entre as normas dirigidas ao sujeito moral e aquelas dirigidas ao “soberano”, ao príncipe ou cidadão ativo, ou seja, ao produtor, das normas políticas, cuja atividade deverá ser também ela regulada com base em algum princípio ou sistema normativo. Mas o problema da relação e dos diversos modos possíveis de conceber a relação entre regulamentação moral e regulamentação política da conduta humana não coincide em geral com o problema da relação ou dos diversos modos possíveis de conceber a relação entre regulamentação da conduta moral e regulamentação da conduta política.
Sugiro que a primeira ordem de problemas se apresenta quando se olha para as relações que sobrevêm ou que deveriam sobrevir entre ética e política colocando-se do ponto de vista do destinatário das decisões coletivas, ex parte populí: aquele que se coloca nesta perspectiva tende pela maior parte a buscar as condições de um possível casamento entre ética e política, e muitas vezes individualizá-las em alguma concepção da justiça, entendida como a qualidade que torna uma ordenação política moralmente aceitável; a segunda ordem de problemas apresenta-se quando se olha as relações entre ética é política colocando-se do ponto de vista do produtor das decisões coletivas, ex parte principis: aquele que se coloca nesta outra perspectiva busca antes de tudo descrever e explicar o divórcio entre ética e política que a história e a experiência comum mostram ser evidente, e muitas vezes busca também princípios de justificação para esse divórcio. Acredito que a distinção entre a perspectiva ex parte populi e aquela ex parte principis é útil para identificar os diversos aspectos do problema que estamos tratando.
Em geral, a segunda ordem de problemas gira em torno de algumas perguntas clássicas: quais regras adotarão respectivamente o homem como tal e o homem político? As normas para o agir político são e devem ser diferentes das normas para o agir comum? Aquele que age na cena política como sujeito ativo pode sensatamente propor-se a inspirar o próprio agir conforme o princípio kantiano da conformidade da política com a moral? O bem para o qual deve olhar o príncipe, ou o cidadão democrático enquanto decisor público, pode ser o mesmo que deve ser visado pelo sujeito moral? Existe somente um tipo de código – além das controvérsias sobre a interpretação dos valores – um sistema único de regras de conduta que vale também para a conduta política, ou para o sujeito ativo da relação política vigora também um código particular, uma ética profissional com valores e deveres distintos daqueles que valem para a ética universal ? E neste caso, tais valores e deveres do político não estarão muitas vezes em oposição com aqueles do código moral, de todo modo definidos? De um ponto de vista que chamarei filo-kantiano, a relação entre regulamentação da conduta moral, do homem como tal, e regulamentação da conduta política, do príncipe ou do cidadão que decide, é uma relação de compatibilidade e convergência na distinção: para o jusnaturalismo moderno em geral as leis naturais, que são as leis morais universais, valem como vínculos da obra dos governantes, e portanto como princípios normativos da legislação positiva. De um ponto de vista que chamarei filo-maquiavélico, a relação é de potencial incompatibilidade e divergência: o homem ético não pode ser príncipe, e inversamente, o príncipe não pode ser sempre bom, deve saber usar o homem e a fera18. Esta oposição radical de posições pode ser levada, para além de diferentes interpretações da ética, a duas diferentes idéias de política. Para identificá-las, não ajuda a definição de política fundamentada sobre a noção de heteronomia, porque a oposição entre autonomia e heteronomia é válida para distinguir a ética e a política, do ponto de vista do sujeito passivo da relação política, e não daquele do sujeito ativo.
NORMAS ÉTICAS E NORMAS TÉCNICAS
Também o segundo e o terceiro dos critérios propostos inicialmente não permitem ainda enfrentar este aspecto do nosso problema que se refere à relação entre regulamentação da conduta moral e regulamentação da conduta política, e que parece emergir considerando-se a dupla problemática ética-política ex parte principis; podem porém contribuir para o aprofundamento do outro aspecto, que se apresenta do ponto de vista do indivíduo comum, ex parte populi, e que se refere à relação entre regulamentação ética e regulamentação política da conduta humana em geral.
O segundo critério não mais concerne aos sujeitos mas à forma da prescrição. Reportamo-nos ainda a Kant, esta vez para a distinção entre imperativo categórico e imperativo hipotético. Se assumimos kantianamente que a norma ética enquanto tal tem a forma do imperativo categórico, “você deve x”, a saber que exprime uma pura obrigatoriedade, um dever incondicionado19, podemos perguntar-nos se a norma política, analogamente a outros tipos de normas mas em todo caso diferentes da norma ética, tem enquanto tal a forma do imperativo hipotético, que é “se queres x, deves y”, a saber se exprime um dever condicionado a um fim qualquer ulterior. Podemos dizer consequentemente que a norma política na sua diferença específica com a norma ética apresenta-se como uma norma técnica? Parece que sim: na norma política – entendo sempre a prescrição contida no comando do poder político, ou de qualquer maneira implícita nas decisões coletivas – o comportamento prescrito não é apresentado como um fim em si mesmo, mas como meio para evitar a sanção coativa (limitando-nos ao caso paradigmático da sanção negativa). A presença da sanção coativa qualifica a norma política como tal, ou seja, como emanada do poder coativo, e por assim dizer, a presença do poder político na norma, e por essa razão a distingue da norma ética independentemente do conteúdo da prescrição, que pode também ser o mesmo.
Esta diferença específica entre ética e política torna-se ainda mais evidente se adotarmos o terceiro critério proposto para a distinção, ou seja, buscando que tipo de obrigação advirá respectivamente da norma ética e da norma política: a ética pretende uma adesão interior, obrigação interna, convencimento, e por isso a norma ética tende a persuadir, a vincular a vontade; a política pretende conformidade exterior do comportamento à prescrição, e por essa razão a norma política tende a constranger, a vincular a ação. O que conta sobretudo, para a ética, é a boa vontade; o que verdadeiramente interessa, para a política, (pela conveniência organizada do poder político) é a ação em conformidade. Para este fim a sanção coativa é determinante, a tal ponto que transforma a norma política numa variante especial da norma técnica “se queres y, deves x”. É uma variante assimilável à segunda espécie do imperativo hipotético kantiano. Kant distingue das regras técnicas propriamente ditas, nas quais o fim x é possível, as normas de prudência ou pragmáticas, cujo fim y é, afirma Kant, “real”, ou seja, necessário20. Enquanto para a norma técnica a escolha entre querer e não querer y é geralmente livre, no sentido de que as alternativas são consideradas ambas lícitas e indiferentes, e o comportamento prescrito x é apresentado como lógica ou fatualmente necessário para obter o fim y (e esta necessidade torna duvidoso que se possa falar de obrigação); na norma política, onde geralmente o fim y é aquele de evitar a sanção, pressupõe-se que todos queiram y, portanto, o comportamento prescrito x é o meio necessário para um fim também ele a seu modo necessário: ou sobre esta pressuposição baseia-se a “força” da lei. Enfim, a norma política, salvo nas intenções do poder político, assume a forma geral de uma versão negativa da norma pragmática kantiana: “uma vez que não podes não querer y, ou seja, evitar a sanção, deves x.“
Parece portanto que uma definição recíproca de ética e de política pode ser construída também mediante a distinção entre imperativos categóricos e hipotéticos, entre normas éticas e normas técnicas ou pragmáticas, entre obrigação interna e obrigação externa, e entre boa vontade e ação conforme. Nesta perspectiva ética e política tornam-se compatíveis sob a condição de que não se chegue a um conflito de obrigações, isto é, que o comportamento prescrito pela norma técnica política não seja contrastante com aquele prescrito pela norma ética. As figuras trágicas de Antígona e de Creonte representam de modo paradigmático a situação oposta, na qual o comando coativo do poder político assume um conteúdo contraditório com respeito ao imperativo da consciência moral. Ao contrário, ética e política podem ser concebidas não somente como compatíveis, mas também como convergentes quando a obrigação externa estabelecida pela norma técnica política esteja em conformidade com a obrigação interna colocada pelo imperativo moral.
Mas deste modo chegamos novamente à problemática hipótese de uma conformidade entre política e ética, neste caso, do dever político ao dever moral. Novamente, esta conformidade parece plausível, antes, é requerida, do ponto de vista do sujeito passivo da relação política: o indivíduo comum, como condição da própria lealdade, para o coletivo e suas regras, tende a exigir que o dever político de submeter-se às decisões coletivas seja pelo menos compatível com seu sentido moral e que o ato de agir em conformidade com a ordem constituída não provoque incômodo ético, ou diretamente repugnância. Mas e o príncipe e o político? É possível para o príncipe que o dever moral nunca se oponha ao dever político? Compreende-se que neste caso “dever político” assume um significado diverso: o que deve fazer o homem político enquanto tal, o decisor público? Do ponto de vista maquiavélico o dever político, ou seja, o dever do político, não é e não pode coincidir com o dever moral do homem. A ética profissional do político não somente permite, mas impõe violações à ética universal, porque o político não poderia seguir as prescrições desta sem faltar ao seu dever: que é aquele de fazer-se obedecer, de produzir normas eficazes, ou seja, em substância de manter o poder. Do ponto de vista kantiano, a ética profissional do político não apenas deve ser inspirada no código moral universal mas em certo sentido derivada dele para poder executar a tarefa de garantir a coexistência externa das liberdades individuais, que é o fim principal da associação política. Na raiz desta oposição estão, evidentemente, duas idéias diferentes da tarefa do político.
DOIS FINS, DUAS CONCEPÇÕES DA POLÍTICA
Mas qual é o dever do político? Para que fim deve tender a conduta do político, ou seja, de quem age como decisor público, considerando os problemas do grupo político enquanto tal? É como perguntar-se: que direção deverá dar o político à vida da coletividade? Para quais escopos orientará a regulamentação da conduta de seus membros? Qualquer um pode ver que é desse modo possível conectar os dois aspectos do nosso problema, que identificamos como emergentes nas duas distintas perspectivas de sujeito ativo (quais são as regras para a conduta política?) e de sujeito passivo (quais as regras para a conduta humana em geral?). A ligação poderá ser assim buscada na pergunta concernente ao porquê final da política e respectivamente da ética – que corresponde ao quarto dos critérios propostos. Caso se suponha que temos fins não homogêneos ou diretamente opostos, ética e política serão vistas como divergentes; e como convergentes caso se suponha que temos fins homogêneos ou diretamente idênticos.
Do ponto de vista do político como decisor público tudo se reduz ao dilema de saber se a consideração do interesse do grupo pode conduzir para fins diferentes e contrastantes com respeito àqueles dos indivíduos, ou então se o interesse coletivo, o bonum commune que o político deve perseguir como fim, deve em todos os casos ser determinado, pelo menos para fins de princípio, com base nos interesses e fins individuais, como uma soma ou uma integração destes. No primeiro caso, o indivíduo pode, e por vezes deve diretamente, ser sacrificado para o bem do grupo: é a solução que permite reivindicar a independência ou diretamente a superioridade das razões de política sobre aquelas de ética, e que por isso leva a justificar as violações políticas do código moral. A solução oposta, que não consente em valorizar o fim político como superior aos fins individuais, leva a considerar o problema ético da conduta política de modo análogo àquele da conduta humana em geral, e faz desse modo coincidir a perspectiva ex parte principis com aquela ex parte populi.
Mas, ainda uma vez: quais são os fins políticos? Existe alguma coisa como um fim da política? Segundo a clássica concepção weberiana um fim propriamente político não existe, sendo o poder político definido como tal somente pelo seu meio específico, a força física ou a coação, que é meio para muitos fins possíveis. Acredito todavia que a definição da política com base no meio específico é insuficiente, e poder-se-ia encontrar uma confirmação disso nas entrelinhas do próprio discurso weberiano. Para uma definição aceitável da política é necessário, no meu entendimento, determinar o fim essencial em vista do qual o uso (ou a ameaça) da coação física adquire propriamente sentido político. Olhando os clássicos, não é difícil descobrir que à política são constantemente atribuídas pelo menos duas finalidades gerais, e que a ênfase colocada sobre uma ou sobre outra conduz a modos alternativos de interpretar o sentido global da política como dimensão determinada pela experiência humana. Numa primeira perspectiva, se faz consistir o sentido da política, seu porquê final, na sobrevivência do grupo. E, posto que o grupo não existe como tal a não ser no interior de alguma ordem política, sua sobrevivência tende a confundir-se com aquela da ordem dada a da estrutura de poder que a garante; mas a permanência de uma certa estrutura de poder coincide com a violação dos poderes rivais que a ameaçam, no exterior e no interior do grupo. Em poucas palavras: a sobrevivência do grupo se traduz naquela do grupo de poder, e esta tende a coincidir com a violação do outro grupo e do outro poder. É a perspectiva maquiavélica, compartilhada na substância por todas as versões, ainda que ideologicamente opostas, do chamado realismo político. Nela o fim essencial da sobrevivência do grupo “justifica os meios”, a saber justifica, como meio, uma recorrente violação da ética: manifesta-se aqui no primeiro plano o problema da violência do poder, e aquele das razões – a razão de estado ou de partido, ou de grupo – que podem justificá-las. Numa segunda e oposta perspectiva o sentido da política, seu porquê final, é feito subsistir na conveniência dos indivíduos, a qual requer que venha eficazmente a ser garantida uma certa limitação recíproca da liberdade individual exatamente para evitar o recíproco recurso à violência. É a perspectiva kantiana, que podemos considerar neste contexto representativa de todas as concepções, também muito diferentes entre si, nas quais a política não está reduzida ao campo das puras relações de força, de violência e de imposições. Nela o fim da convivência dos indivíduos mostra-se por si mesmo ético, requer em certo sentido a realização da universalidade própria das normas morais: emerge aqui para o primeiro plano o problema da justiça, a saber, a exigência de regras que possam aparecer universalmente como condições equânimes para a interação social.
Não gostaria que a nítida oposiçãoàs supostas concepções “realistas” da política, melhor definidas como conflitantes ou polemistas, que se remetem a primeira perspectiva, sugerisse a consideração de que as concepções que podem ser remetidas à segunda são pacíficas e idealistas, optativas e persuasivas, substancialmente implausíveis frente à experiência comum das coisas políticas, e por essa razão incapazes de dar conta da especificidade da política com respeito à ética. Não é assim: as concepções não-conflitivas da política não são necessariamente concepções idealistas e irrealistas. Não somente a primeira, mas também a segunda perspectiva permite respostas plausíveis à pergunta fundamental de porque existe no mundo o que chamamos política, não sendo suficiente a ética – que é composta por normas autônomas, confiadas ao entendimento e à convicção do sujeito e por isso mesmo duvidosas no conteúdo, desprovidas de coação e por essa razão ineficazes – para governar o universo das relações humanas. Qualquer perspectiva teórica séria sobre a política parte da evidente insuficiência da ética, e recolhe de algum modo a raiz dessa insuficiência no fato incontrovertível que desde sempre surgiram entre os homens conflitos extremos, não solucionáveis sem o recurso da força. Mas disso não se segue necessariamente que a única concepção plausível da política seja aquela conflituosa: se é verdade que existe política no mundo porque existe (ou enquanto exista) conflito, isso não equivale a afirmar que a política seja eminentemente conflito, que oposição, luta e violência sejam a substância e o significado essencial de tudo o que chamamos “político”.
Como política e poder, assim também poder político e força constituem efetivamente um binômio inseparável, e nisso consiste a indubitável validade da definição da política com base no seu meio específico; mas qual é a força que é inerente à política como sua especifidade essencial? É aquela que se manifesta imediatamente nos conflitos extremos, ou aquela mediante a qual os conflitos são enfrentados e impedidos? No primeiro caso, a guerra entre bandos seria um fenómeno de pura política: mas então fica difícil resolver o clássico problema da diferença entre o poder político e aquele do bandido. É verdade, como afirma Carl Schmitt – cuja concepção do “político”, também em virtude de seus mais recentes sucessos, podemos assumir como padrão da tese conflitante -, que “cabe também à política impedir a luta, se decai a possibilidade real de combater”. Mas a política é luta ou impedir a luta? É combater por si próprio, ou resolver e superar o conflito antagônico e impedir que volte a surgir? Certamente ninguém poderia jamais querer negar que existam lutas propriamente políticas: mas trata-se de estabelecer se a luta (ou melhor, a luta extrema na qual se manifesta a oposição amigo-inimigo, como diria Schmitt) deve ser considerada por si própria política, se representa a essência da política, isto em razão de que tudo o que é político toma sentido e se revela como tal, ou antes se a própria luta adquire significado político somente na perspectiva da sua superação, ou seja, em vista da instituição de alguma ordem que impeça o reaparecimento dos conflitos antagônicos.
Como é sabido, Carl Schmitt reporta-se explicitamente a Hobbes. Mas Hobbes separa com um corte perfeito a força que é inerente ao conflito natural entre os homens da força do poder comum, que é aquela propriamente política: a saber, coloca uma descontinuidade entre o estado de natureza e o estado político. Schmitt sabe perfeitamente que o estado de natureza é “uma situação anormal” e todavia estabelece uma espécie de continuidade entre o estado de natureza e estado político, acaba por reduzir este àquele, levando-o até o conflito cósmico, o estado de natureza internacional. Para concluir, Schmitt atenua até anular exatamente a descontinuidade lógica entre bellum e civitas, aquela que em Hobbes fundamenta o horizonte da política no sentido próprio – tanto é verdade que não reconhece qualquer importância no contratualismo hobbesiano. O ponto de partida é sempre o conflito: mas para Schmitt, o político é o aguçar-se do conflito até produzir a oposição antagônica amigo-inimigo; para Hobbes, política é propriamente impedir que o conflito venha a ser antagônico. A verdade da política, a sua essência, o seu significado último estão para Hobbes no Leviathã, além da guerra civil; para Schmitt estão, em Behemoth, o monstro que encarna a guerra civil universal.
O ESTRATEGISTA E O TECELÃO
Recapitulando: se a política é essencialmente conflito -“combater”, afirma Schmitt, “para preservar o próprio modo de vida peculiar” contra o inimigo político, a alteridade que representa “a negação do próprio modo de existir” – então o fim que eminentemente define a política é a sobrevivência do grupo, a conservação (e a afirmação) da sua identidade; e num mundo considerado em permanente estado político de necessidade, onde mors tua vita mea, a sobrevivência coincide com a violência, depende da vitória, exige a derrota do inimigo. Nesta concepção, a política aparece logicamente contígua à guerra, e a figura emblemática do político é aquela do estrategista. É a concepção de quem interpreta a dimensão política da existência com base num modelo “exterior” da vida coletiva, mediante o qual o grupo político é visto numa relação de desafio e ameaça permanente com outros grupos. Se a política é, ao contrário, essencialmente ordem e composição do conflito extremo, então o fim que eminentemente define a política é a coesão ou a convivência. A figura emblemática do político aparece neste caso como aquela do tecelão, que produz e mantém íntegra a trama social. É a concepção de quem interpreta a dimensão política da existência com base em um modelo “interior” da vida coletiva, mediante o qual o grupo político é visto compor-sc na relação de interação e integração entre seus membros. Nem por isso o conflito é eliminado dos confins da política: mas é reconhecido político não o conflito enquanto tal, ou enquanto extremo e antagônico, senão aquele, ainda que extremo e antagônico, que põe em questão as regras, os princípios, os fundamentos da ordem política, que é combatido em prol da conservação ou pela transformação de uma certa forma de convivência – numa palavra, o próprio conflito aparece político em virtude da ratio finalis anti-conflitante da política. Não se trata, reafirmo, de uma concepção idealizante ou puramente normativa, porque a finalidade anti-conflitante é aqui apresentada como coincidente com a função indispensável de qualquer poder político, de qualquer modo que seja julgado e qualquer que seja o fim ulterior que se proponha: aquele de impedir a desagregação do grupo.
Entre as duas concepções subsiste uma oposição especular, particularmente evidente se consideramos as versões mais radicais de ambas. O que é eminentemente político para uma é visto como não-político para a outra: o agrupamento antagônico amigo-inimigo é exatamente o “critério do político” para Schmitt, enquanto que para o contratuais moderno, desde Hobbes a Kant, é o fenômeno típico da condição pré-política e anti-política, o estado de natureza; a superação da oposição conflituosa coincide para os contratualistas com a instauração do “poder comum” e com o nascimento da vida política, enquanto que para Schmitt constitui um processo de “neutralização” e de “despolitização”. Dois exemplos podem talvez ilustrar com maior clareza esta oposição. O primeiro: os herdeiros do contratualismo clássico, o conflito previsto e regulado pelas regras do jogo democrático aparece puramente “político” exatamente porque é feito de modo não violento, desmilitarizado; pelo mesmo motivo aparece a Schmitt desprestigiado e “caricatural”, até transformar-se em não político na doutrina liberal, que é definida como “um sistema completo de conceitos desmilitarizados e despolitizados”. O segundo: um mundo finalmente pacificado mediante a federação universal de todos os povos, cujo sistema diretivo tivesse condição de governar os inevitáveis e inumeráveis conflitos evitando seu aguçar-se em antagonismos belicosos, seria visto pelos herdeiros do contratualismo como puramente “político” exatamente porque desmilitarizado: para Schmitt, “um globo terrestre definitivamente pacificado seria um mundo que não tem mais a distinção entre amigo e inimigo e consequentemente seria um mundo sem política.”
É verdade que os fins opostos da sobrevivência do grupo e da convivência dos indivíduos, e os modelos alternativos de interpretação da vida coletiva correspondem ao que segundo a noção comum são as duas vertentesda política, distintas na verdade não somente como exterior e interior mas consideradas complementares, ou seja, ambas necessárias para definir de modo exaustivo o campo da política, Também na fórmula do pacto de união hobbesiano, o poder político resulta instituído para perseguir ambos os fins: “pela paz e a defesa comum.” Todavia, as duas concepções gerais da política que delineamos opõem-se ao indicar qual das duas representa o fim último, aquele que confere à política seu próprio sentido: se as razões do tecelão são ou devem ser subordinadas àquelas do estrategista, a saber, se a ordem interna é ou deve ser modelada em vista do fim último eminente da salvação do grupo, ou então se as razões do estrategista são ou devem ser subordinadas àquelas do tecelão, se os modos, as formas e os aparatos de defesa comum são ou devem ser modelados com base no fim último fundamental da convivência pacífica dos indivíduos. (Outra coisa seria perguntar-se qual das duas lógicas, aquela interior orientada para a convivência ou aquela exterior orientada para o conflito, prevalece de fato na cena do mundo político. Não podem existir muitas dúvidas de que a lógica dominante é aquela do conflito e da violência. Mas isto não constitui necessariamente um argumento decisivo para recusar a concepção não-belicista da política. Do ponto de vista desta, de fato, poder-se-ia sustentar simplesmente que o mundo está ainda amplamente no estado de natureza, estendendo a condição política ao que Hobbes afirmava da condição de conflito natural: a saber, que “geralmente ela nunca existiu em todo o mundo”.)
A oposição dessas duas concepções ou perspectivas gerais sobre a política já está claramente demarcada em Platão. No primeiro livro das Leis o cretense Clinia expõe a tese segundo a qual toda a vida política é orientada para a guerra e toma sentido em vista dela: as principais instituições cretenses – afirma Clinia – “preparam a guerra, e parece-me que o legislador tenha organizado também todas as outras objetivando este propósito… E assim ele quis, parece-me, condenar a estultícia dos demais, que não compreendem que sempre existe a guerra de todos os estados contra todos os estados, continuamente, enquanto exista o gênero humano… Analisando dessa forma a obra do legislador de Creta, talvez possas encontrar que ele ordenou todo o costume para nós em função da guerra, a vida pública e a privada”. O anônimo interlocutor ateniense refuta esta tese, concluindo seu argumento com o exemplo do juiz-legislador “capaz de reunir uma família desgastada pela discórdia”: ele “não matará ninguém, pacificará para o tempo futuro, dará leis para eles de modo que-sejam amigos entre si”; portanto “as leis que ele lhes daria teriam um fim contrário à guerra; visto que “um ‘legislador astuto… ordenará a realização” da guerra em função da paz, antes que colocar a paz a serviço da guerra”.
É certo que a definição do ateniense, que representa o “idealista” Platão, é persuasiva, na medida em que distingue uma boa política de uma má política. Mas ela é traduzível numa concepção não prejudicada normativamente se o fim da convivência (ou melhor, aquele de impedir a desagregação da convivência) apresenta-se simplesmente como o fim mínimo irrenunciável de qualquer poder político, mesmo o “mau”. É como dizer: o político é sempre antes de tudo um tecelão. Depois de ter colocado a estratégia entre as artes congêneres e auxiliares da “arte real” do político – “Portanto não diremos que é ciência política, mas escrava desta, a ciência dos estrategistas” -, na célebre conclusão do diálogo homônimo, Platão delineia o retrato exemplar do político como sendo aquele que reconduzindo à unidade e harmonizando as diferentes naturezas e inclinações dos homens, “realiza, desse modo, o mais vistoso e o melhor de todos os tecidos, e envolvendo a todos na cidade os têm unidos nessa trama”.
QUESTÕES IMORAIS
No fim deste percurso, parece portanto que o nosso problema está aberto a duas soluções opostas, exprimíveis respectivamente com as fórmulas da divergência e da convergência entre ética e política, e que esta duplicidade de soluções tem raiz na duplicidade de concepções e perspectivas gerais sobre a política que atravessa toda a história do pensamento. Na perspectiva do político-estrategista, que é aquela da oposição e do conflito, a política diverge necessariamente da ética. Do ponto de vista do grupo que vê a própria sobrevivência sempre em potencial perigo, a conformidade do agir político à ética não pode ser considerada um preceito observável: se a condição permanente do universo político é o estado de necessidade, nele as normas morais não são válidas. Na perspectiva do político-tecelão, que é a da composição do conflito e da coesão social, ética e política podem convergir, ou seja, parece possível a meta de uma conformidade da política à moral; ou pelo menos aparece fundamentada a pretensão de assumir essa conformidade como idéia reguladora e como critério de juízo ético da realidade política. Isso porque nessa segunda perspectiva a ratio finalis da política acaba por coincidir com aquela da ética. O fim essencial e o significado último da ética parece ser portanto a convivência: as normas éticas não têm outro sentido senão o de permitir a convivência constituindo sua base normativa. Esquematicamente: enquanto na primeira perspectiva, ética e política se definem por oposição dos fins, e por isso mesmo divergem, na segunda perspectiva, se definem por distinção dos meios, na substancial identidade do fim, e por isso podem convergir. No primeiro caso, o problema principal, teórico e prático, refere-se à possibilidade de justificar ou não a imoralidade violenta do poder; no segundo caso, o problema é aquele de elaborar critérios de justiça segundo os quais devem ser comparados comportamentos e ordenações políticas.
Mas no nosso tempo a imoralidade violenta do poder, pelo menos nas metrópoles da democracia real, tende a retroceder até um mínimo. Certamente não desaparece, mas quase se oculta, substituída no primeiro plano por uma outra imoralidade, astuta e cínica, não raro abertamente fraudulenta. Se a democracia tende por si mesma a reduzir a violência nas relações humanas, os modos pelos quais ela se realizou e funciona consentiram que em lugar da violência se afirmasse a astúcia, sua companheira e rival de sempre. Conseqüentemente, no lugar do realismo tradicional que justifica a imoralidade violenta do poder, afirma-se entre as paredes domésticas das democracias reais um novo realismo, que justifica a imoralidade da corrupção, ou o amoralidade implícita na redução da lógica política àquela do mercado – novo realismo portanto também no sentido da ideologia apologética da “realidade” recente das nossas democracias, tão pouco ideais. Um maquiavélico, um paretiano cético, diria simplesmente que na cena política voltou o tempo das raposas; mas um kantiano incurável renovaria a crítica ao realismo casando-a com a critica à mercantilização universal.
* Ética e política – tra machiavellismo e kantismo”. Teoria Politica, IV, 2, 1988. [ Links ]
** Tradução de Letizio Mariconda e Pablo Rubén Mariconda.
1 Ver, nesta mesma edição, “Ética e Política”, de Norberto Bobbio.
2 Uma retomada, um desenvolvimento e também urna correção da primeira tipologia parecem contidas no ensaio ainda uma vez intitulado “Ética e Política”, publicado em Micro-Mega, 1986, n. 4, pp. 97-118. [ Links ] Nesse ensaio o esquema da distinção entre monismos e dualismos não é mais a estrutura principal do discurso, o panorama das teorias e dos argumentos é substancialmente igual. A verdadeira novidade desse ensaio mais recente está na parte final que contém observações críticas sobre as teses da não-moralidade da política.
3 Cf. R. Bodei, “La decisione saggia. Filosofia prática e teoria delle scelte ragionevoli”, em Ética e política (Parma, Petriche Editriche, 1984). [ Links ]
4 Cf. S. Veca, “Una teoria contrattualistica delia giustizia”, in Etica e politica, op. cit., pp. 73-89. [ Links ]
5 Cf. por exemplo, na Lógica della Grande enciclopedia (trad. it. de V. Verra, intitulada La scienza della Logica, Utet, Torino, 1981), [ Links ] apêndice ao parágrafo 118.
6 Salvo indicações em contrário, neste contexto uso os termos ética e moral como sinônimos. Ao considerar as questões clássicas concernentes à relação entre direito e moral, tentando repensá-las e traduzi-las na perspectiva da comparação entre ética e política, levei em consideração dois textos de Norberto Bobbio, La Teoria della norma giuridica, Giappichelli, Torino 1958, [ Links ] e o verbete Norma da Enciclopedia Einaudi, vol. IX, Torino, 1980. [ Links ]
7 A fonte é ainda Bobbio, “Dal potere al diritto e viceversa” Rivista di Filosofia, LXXII, n. 21, 1981, pp. 343-358. [ Links ]
8 I. Kant, Fondazione delia metafísica dei costumi, trad. it. de P. Chiodi em Scritti morali, Utet, Torino 1970, p. 91. [ Links ]
9 G. W. Leibniz, Riflessioni sulla nozione comune di giustizia (1702-1705), nos Scritti politici e di diritto naturale, org. de V. Mathieu, 2a ed. 1965, p. 213. [ Links ]
10 Permanece exemplar a sentença de Anselmo (Proslogion, XI): “id solum iustum est, quod vis, et non justum, quod non vis”, “isto somente é justo, porque queres, e injusto porque não queres”.
11 No artigo sobre “I fondamenti filosofici delia democrazia” Teoria Politica.
12 J. J. Rousseau, Il contratto sociale, trad. it. de V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1966, p. 25. [ Links ]
13 G. W. Leibniz, op. cit., p. 213.
14 Cf. Il Contratto sociale, op. cit. cap. VII “Do legislador”, p. 57: “Aquele que ousa tomar a iniciativa de fundar uma nação deve sentir-se em condição de mudar, por assim dizer, a natureza humana, de transformar cada indivíduo, que por si só é um todo perfeito e separado, em parte de um todo maior, do qual esse indivíduo recebe de algum modo a vida e a existência.”
15 Sustentei esta tese no ensaio “Luoghi classici e prospettive contemporanee su política e potere”, Ricerche politiche, org. de M. Bovero, Il Saggiatore, Milano, 1982; [ Links ] mas agora não estou mais convencido disso.
16 Cfr, D. Gobetti, “Privato/pubblico”, Teoria política, 1986, n. 3, pp. 3-20. [ Links ]
17 I. Kant, “Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio”, in Scritti politici e di filosofia delia sloria e del dirillo, Utet, Torino, 2a. ed. 1965, pp. 225-26. [ Links ]
18 Assim diz Maquiavel no célebre capítulo XVIII de O Príncipe.
19 Não pretendo entrar no labirinto dos problemas conexos com a distinção entre éticas deontológicas e éticas teleológicas, também porque neste contexto parece-me possível contorná-lo: qualquer código ético contém normas condicionadas enquanto originadas de um ou mais princípios fundamentais, que enquanto não condicionados podemos considerar homólogos ao imperativo categórico – tais me parecem ser também as várias formas do princípio de utilidade. Acredito ser plausível em geral sustentar que na ética pode-se sempre remontar a um dever incondicionado.
20 Cfr. I. Kant, Fondazione delia m
Descubra mais sobre Blog do Levany Júnior
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

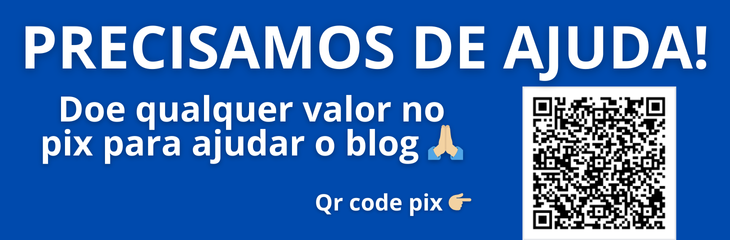


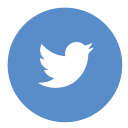

Comentários com Facebook